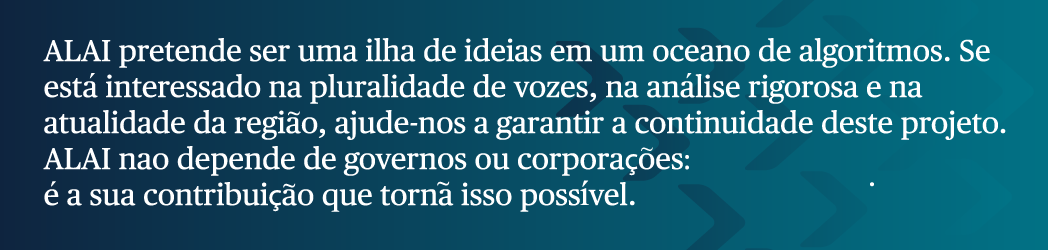Alai conversou com exclusividade com Enrique Dussel, um dos principais intelectuais do Sul Global. Dialogamos sobre o momento político, a descolonização, o papel dos intelectuais, o novo evangelismo, as direitas da região e os desafios que a América Latina e o Caribe enfrentam neste ciclo histórico.
Enrique Dussel é para os povos do Sul Global o que foi Hegel para as burguesias europeias do século 19. Como o filósofo de Stuttgart, o mendocino [proveniente de Mendonça, Argentina] decidiu voltar a pensar tudo, desenvolvendo um pensamento sistemático e rigoroso, mas sobretudo comprometido e radical. Seu olhar atento e voraz passou por quase todos os campos: a filosofia, a história, a teologia, a ética, a política, a geopolítica, a antropologia, a pedagogia, a estética e o erótico.
Mas comparar Dussel a Hegel significa sublinhar tudo o que tem de antagônico a respeito do grande filósofo da burguesia alemã e mundial: Dussel fundamenta a libertação onde se justificou a escravidão; promove a descolonização frente à permanência da colonialidade; afirma a historicidade da América frente ao encobrimento ocidental; pondera o coletivo e o comunitário frente ao individualismo liberal; defende a intrínseca dignidade humana frente ao racismo, o patriarcado e o capital.
Enrique Dussel é um dos principais agitadores da filosofia da libertação, movimento que fundou em 1971 junto a pensadores como Mario Casalla, Rodolfo Kusch, Horacio Cerruti Gulberg, Arturo Andrés Roig e outros. Sua formação parte do marxismo e o cristianismo, une ética e política e deságua no que tem sido chamado de “giro decolonizador”, uma crítica frente ao eurocentrismo e o ocidentalismo formulada a partir dos países do Sul Global.
Dussel nasceu na província de Mendonça, na Argentina, no ano de 1934. Estudou Filosofia na Universidade de Cuyo, trabalhou como carpinteiro em Nazaret, e se especializou em História e Teologia em Paris. Já de volta a seu país natal, e com a chegada da ditadura cívico-militar de 1976, foi expulso da universidade, vendo censurado seu trabalho intelectual. Finalmente, um atentado com bomba perpetrado em sua casa por grupos paramilitares o levou a se exilar no México, onde desenvolveria a maior parte de sua obra. O conjunto de sua vastíssima obra, que supera os 50 volumes, se encontra disponível em sua própria página na internet, com acesso aberto para o estudo de investigadores, docentes e militantes populares.
Conhecido por sua proximidade com os movimentos sociais, Dussel não arrumou desculpas na hora de destinar parte de seu tempo para trabalhar como pedagogo e formador de militantes populares. Na atualidade se empenha como um dos organizadores da Escola Decolonial de Caracas e como secretário de formação política do MORENA, em México. Sua defesa irrestrita de processos como a Revolução Cubana, o processo de mudanças na Bolívia, e a Revolução Bolivariana da Venezuela, o levaram a sustentar amargas polêmicas com outros teóricos decoloniais. A seguir, a entrevista que generosamente nos concedeu:
Lautaro Rivara: Em “Carta aos indignados”, um livro que já tem uma década, o senhor se referiu a si mesmo como um “velho militante”. O que significa para o senhor a militância, exercida a partir do campo intelectual? Quais são as principais tendências e desafios de nossa época?
Enrique Dussel: Ser militante significa se opor à realidade que vivemos. A filosofia da libertação que pratico e contribuí para fundar nasceu há muitos anos, de parte de uma geração que já está terminando seus dias: poderíamos dizer que o fiz no ano de 1968, ainda que a Revolução Cubana, importantíssima, tenha se dado uma década antes. Nós fomos muito influenciados pela leitura de Herbert Marcuse, de Paulo Freire, de Frantz Fanon, das grandes figuras intelectuais e militantes daquela época.
“Creio que pelo surgimento da potência industrial que é a China, pelo equilíbrio militar estabelecido com a Rússia, e pela falta de liderança nos Estados Unidos estamos, talvez, diante da possibilidade de uma segunda emancipação”.
Hoje, depois de mais de 50 anos, sigo militando a partir da filosofia, das armas do pensamento, sigo estudando e pensando nos novos temas da América Latina. Mas sempre me apaixona voltar a José Martí, a José Carlos Mariátegui, a todos os que pensaram a necessidade de uma segunda emancipação. Porque a América Latina se emancipou da Espanha e Portugal, mas para ser submetida logo ao neocolonialismo sob a égide dos Estados Unidos, que nos considera seu quintal dos fundos desde a Doutrina Monroe.
Todos os golpes de Estado impulsionados pelos Estados Unidos, ou por outros estados europeus, buscaram garantir nossa subordinação, nossa exploração econômica. Qualquer força que se opusesse era declarada comunista, se impulsionava o golpe e se colocavam militantes frente ao Estado. Foi o caso, por exemplo, do golpe contra Jacobo Arbenz, em 1954, na Guatemala, que marca o começo de uma forte presença dos Estados Unidos na América Latina.
Em minhas obras sobre filosofia política nunca deixo de trazer à memória a história e a realidade dos Estados Unidos. Usualmente considerado um país desenvolvido, com uma população democrática. Mas é um país de enormes contradições, racista, guiado pelos ideais de Hollywood, a burguesia norte-americana, o FMI, etc…
Creio que pelo surgimento da potência industrial que é a China, pelo equilíbrio militar estabelecido com a Rússia, e pela falta de liderança nos Estados Unidos – hoje em plena crise -, estamos, talvez, diante da possibilidade de uma segunda emancipação, o que nos permitirá nos situarmos de igual para igual frente aos norte-americanos. Se não for assim, estabeleceremos melhores relações com China, país que parte de uma longa história que ignoramos, que foi uma potência industrial muito antes que Europa e Estados Unidos. A hegemonia norte-americana está chegando ao seu fim, e isso se vê com a Nova Rota da Seda, que já chega até a Argentina. Ademais, a Europa também está ficando sem ar, tensionada entre Oriente e Ocidente. Se trata de um tema muito atual, esse da nossa segunda emancipação.
Parece que a crise da OEA – um ministério estrangeiro de colônias – levará à sua substituição pela Celac, um instrumento que ganha potência com a política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Isso significa todo um passo a frente.
L.R: O senhor se manifestou em reiteradas ocasiões sobre a falta de autoestima intelectual e o caráter burocrático da academia nos países periféricos. E também foi crítico de alguns intelectuais decoloniais que romperam com os processos mais avançados da região. Qual é a relação entre decolonialidade e anti-imperialismo?
E.D: A decolonialidade e o anti-imperialismo devem ir no mesmo sentido, devem ser um só movimento. Devemos superar esta situação mental colonial em que vivemos: devemos superar o modelo de intelectual latino-americano que sempre está citando autores norte-americanos e europeus, vítima de um tremendo colonialismo epistemológico. Devemos beber também de nossas próprias fontes. Estamos, todavia, atravessando um processo de decolonização epistemológico: temos novos problemas, e sobretudo problemas nossos, que não são os dos europeus e norte-americanos. Se seguimos os imitando, buscando o último autor da moda, então já não vamos poder pensar o nosso. Devemos ler os nossos autores, conhecer nossas tradições políticas, intelectuais e históricas.

Hoje, um intelectual decolonial, um intelectual militante, deve tomar partido por todos os processo de médio prazo, pensando a longo prazo na superação do capitalismo, na construção de uma sociedade ecológica, na superação do uso do petróleo e das energias não renováveis. Estamos em uma época de grandes mudanças: a filosofia e o pensamento crítico deve tomar nota destas coisas. Também da pandemia, que evidenciou o fracasso do neoliberalismo, que entregou a saúde ao capital privado. Esta realidade exige pensar com urgência o que está sucedendo e demanda um grande compromisso intelectual e político, do tipo militante. Devemos retomar todos os nossos grandes ideais e aplicá-los a fins realizáveis. Essa situação, insisto, nos dá uma janela de oportunidades para avançar em uma segunda emancipação.
L.R: Proponho agora que falemos de religião. A partir da sua formação teológica e marxista, como caracteriza o crescimento exponencial do evangelismo neopentecostal na região? O senhor chegou a dizer que “o socialismo está sob do cristianismo”. O que há sob o novo evangelismo?
E.D: A tradição católica deu dois frutos bem diferentes: um, obcecado com os temas tradicionais, a propriedade privada, que aceitou o domínio do capital e, no máximo, propõe algumas reformas. Este deságua diretamente nas correntes de direita. Mas há outro fruto, na teologia da libertação, e hoje no mesmo Papa, que expressa uma posição muito mais progressista e popular.
“Necessitamos um Estado robusto para servir obedientemente às exigências do povo. Mas também há que se pôr em xeque o Estado que conhecemos”.
As igrejas neopentecostais, muitas delas de origem e influência norte-americana, têm uma ideologia muito mais coerente e adequada com o capitalismo dependente. Por desgraça, em muitos casos, como aconteceu recentemente na Bolívia, alguns setores apoiam fervorosamente os golpes de Estado, tornando-se movimentos antipopulares e, teologicamente, anticristãos. Para eles, a religiosidade popular latino-americana é vista como uma infiltração no cristianismo que há que negar. Eles tomam alguns textos da Bíblia, e lhe dão uma leitura capitalista e individualista, como a presidenta Jeanine Áñez, quando entrou no Palácio governamental com a Bíblia na mão, desrespeitando a Wiphala, a bandeira quéchua-aymara. Essa ideia de lutar com o evangelho contra os símbolos indígenas é uma aberração, própria de um cristão conservador, neoliberal e protonorte-americano.
L.R: Gostaria de te perguntar agora sobre as velhas e novas direitas na América Latina e Caribe e sobre suas teses de política. Muitos debates tem se dado e seguirão acontecendo, sobre o lugar da democracia frente ao assédio de minorias intensas cada vez mais racistas, violentas, misóginas e antidemocráticas. Que democracia é a que se há de defender, e qual a que se deve construir?
E.D: É necessário partir por opor a democracia representativa à participação democrática do povo, que são duas coisas distintas. A questão é criar instituições onde o povo possa participar constitucionalmente no governo. Na Venezuela, por exemplo, há um poder representativo, mas há também um poder participativo, que se organiza a partir das bases, onde o povo tem a possibilidade de se reunir no bairro, nos coletivos maiores, e propor então exigências ao poder representativo.
Temos que imaginar um novo tipo de Estado, não anulação do que existe como se fosse intrinsecamente perverso. Necessitamos um Estado forte para nos defender, por exemplo, do imperialismo. Necessitamos um Estado robusto para servir obedientemente às exigências do povo. Mas também há que se pôr em xeque o Estado que conhecemos. Fazer com que o povo possa participar, que não seja só representativo, que não se reduza a uma cúpula burocrática que governa de cima para baixo. Há que modificar as instituições políticas a partir da base para pôr um limite à representação. A participação não pode ser só eventual, através de algum tipo de plebiscito ou consulta: a participação deve ser orgânica, com a presença constante do povo, com as instituições construídas de fato. Isso exige, claro, um tipo radicalmente novo de Estado, de uma revolução com a participação institucional do povo.
L.R: No debate com diferentes correntes liberais, o senhor disse que, ao menos no Sul Global, sempre fomos comunidade, nunca fomos indivíduos. Considerando este olhar sobre o Estado que acaba de compartilhar conosco, qual é o papel da comunidade? Que papel joga a comunidade nos processos de decolonização política e ante os processos de individualização tão intensos que estamos vivendo?
E.D: O regime liberal pensou só em um tipo de organização representativa, onde a elite, sobretudo os mais riscos, impõem seus candidatos. Em teoria o povo vota, mas na realidade só confirma o que a elite já elegeu. Assim funciona, em essência, o sistema plutocrático norte-americano. O revolucionário será organizar, institucionalmente, de baixo para cima, a participação popular. O que precisamos é fortalecer a comunidade: que no bairro haja reuniões de base, processos de democracia direta que vão ascendendo até a constituição de um poder nacional participativo. Para isso, há que se aprender com a constituição venezuelana, que reconhece cinco poderes: executivo, legislativo, judiciário, cidadão e eleitoral, que por sua vez também é eleito. Todas as instituições, desse as igrejas até os clubes de futebol, devem ser democratizados. Devemos criar um estado de cinco poderes para que haja uma participação real do povo, hoje manipulado por lideranças espúrias, não democráticas. Isso é a uma questão central na ideologia, na definição do Estado, e na construção de comunidade. Porque, definitivamente, isso que nos somos: comunidade.
Esta entrevista faz parte da 555ª edição da revista da ALAI. Acesse-o aqui
Tradução para ALAI: Mariana Serafini