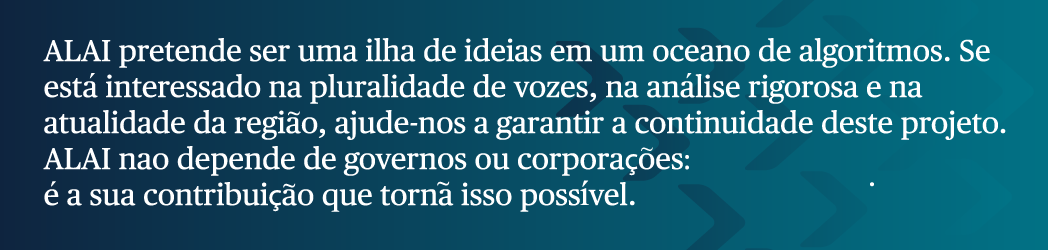I. Emboscado, Putin descobre que a política é mais forte que as armas
Quem predomina nas guerras contemporâneas? As potências militares ou as que manejam a consciência e os fluxos econômicos, sociais e cognitivos? Na guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia, há uma semana, a superioridade bélica de Moscou é incontestável – mas o desgaste político e simbólico é tão vasto que pode-se considerar que talvez Vladimir Putin tenha se deixado atrair por uma emboscada.
No campo de batalha, é possível descrever o cenário com razoável clareza. A aviação, a marinha e as baterias antiaéreas ucranianas foram dizimadas nas primeiras horas de combate. Em seguida, a estratégia militar russa perseguiu três objetivos. Tropas provenientes da Crimeia entraram pelo sul e estão avançando na região em torno do Mar Negro. Tomaram em 2/3 a cidade portuária de Kherson, de 300 mil habitantes (aparentemente sem grande combate) avançam para Mauripol (a leste) e podem visar o Odessa (a oeste). Aproveitando-se da invasão, os enclaves rebeldes de Lushansk e Donetsk, na região do Donbass – onde há forte maioria russa – estão avançando para ocupar todo o território de suas repúblicas, onde a Ucrânia comete desde 2014 crimes de guerra (e haveria forte presença de milícias nazistas). Este movimento é completado, um pouco ao norte, pelo próprio exército russo, que já combate em Kharkiv, segunda cidade do país. Por fim, soldados e tanques russos provenientes da Bielorrússia penetraram na Ucrânia pelo norte, estacionaram a poucos quilômetros de Kiev, a capital, e parecem ter estabelecido um cerco sobre ela, até o momento sem tentar penetrá-la.
Mas quais os objetivos de Putin? Ele jamais os deixou claros, exceto de forma vaga e imprecisa (“desmilitarizar e desnazificar” a Ucrânia). Os movimentos russos no país não permitem, sequer aos apoiadores fieis do presidente (vale acompanhar o site The Saker of the Vineard) compreender seu foco. Esta imprecisão está sendo aproveitada pelos governos e mídias ocidentais para apresentá-lo ao mundo como um déspota ambicioso e sangrento. Muito mais importante, permite sustentar que todas as tentativas de lutar conta o eurocentrismo e as lógicas liberais resultam em tirania e morte – e devem ser, por isso, punidas exemplarmente.
A reivindicação de fundo de Putin é concreta e tem sido defendida por analistas situados em todo o espectro político. O presidente russo denuncia a expansão contínua da OTAN desde 1991 e a instalação, às portas da Rússia, de mísseis apontados contra o país, potencialmente dotados de armas nucleares. Noam Chomsky dá-lhe razão. Thomas Friedman, um claro defensor do supremacismo norte-americano, também. Há menos de três semanas, em Outras Palavras, o brasileiro José Luís Fiori apontou o “ultimato russo” à aliança militar liderada pelos EUA, pela “revisão completa do ‘mapa militar’ da Europa Central”. Mas apostou que este movimento ocorreria “sem guerra”. A própria Rússia negou que pretendesse iniciar os conflitos. Publicações internacionais que defendiam seu ponto de vista, como MintPress, ironizaram as alegações da mídia ocidental sobre a iminência da invasão (num texto que traduzimos e republicamos).
Ninguém sabe ainda o que levou Putin a inciar a guerra. É possível que ele tenha sido movido pela intensificação dos bombardeios ucranianos sobre o Donbass (seguidamente ignorados pelo Ocidente), ou pelas declarações do presidente ucraniano em Munique. Em 19/2, Volodimir Zelensky insinuou claramente que desejava dotar seu país de armas atômicas. Sejam quais forem os motivos, porém, o ato russo abriu brecha para uma contraofensiva política imediata e arrasadora, que levaria, como se verá a seguir, à “bomba nuclear financeira” de 28/2. Já em 24/2, quando Moscou limitou-se a atacar o equipamento aéreo ucraniano, falou-se em “agressão inédita” (como se a própria OTAN não tivesse bombardeado a população civil de Belgrado, capital da Sérvia, por 78 dias, em 1999). As reivindicações da Rússia e o apoio a elas foram sumariamente suprimidos. A Ucrânia passou a ser apresentada como uma democracia ameaçada. Soterraram-se, convenientemente, fatos como a forte presença nazista no golpe que mudou os rumos políticos do país, em 2014, narrados num filme de Oliver Stone).
E tudo tornou-se mais intenso, como era previsível, à medida em que os soldados russos cruzaram a fronteira; em que ficou clara a intenção de ir muito além do Donbass; em que Kiev e outras cidades passaram a ser cercadas; e em que começaram a surgir as inevitáveis vítimas civis de uma campanha militar que tem como alvo central declarado as instalações militares.
Como a Rússia não afirmou um objetivo claro (Libertar o Donbass? Uni-lo, além disso, à Crimeia, capturando uma faixa de terra entre as duas regiões? Chegar a Odessa, ocupando toda a costa ucraniana? Tomar Kiev e formçar uma mudança de regime?) e como suas ações no território sugerem que todas as ações no terreno sugerem que todas estas possibilidades podem estar sendo cogitadas, surgiu a hipótese de que talvez não haja um plano pré-definido. Neste caso, Moscou estaria presa num atoleiro fatal. Não teria nem como concluir uma “missão” não-declarada, nem como retirar-se sem a humilhação de uma derrota devastadora.
Daí vem a sensação de emboscada. Talvez ela tenha sido imaginada desde o início, pelos estrategistas dos EUA e da OTAN – daí, um “anúncio” de “invasão” russa iminente que foi tornando tal passo inevitável. Talvez eles tenha se dado conta das chandes que tinham em mãos no meio da batalha. Em qualquer dos casos, a ofensiva que desencaderaram no terreno do controle da opinião pública e das relações sociais – especialmente as econômicas – é inédito.
II. A bomba atômica financeira e a caça às bruxas
Ao escrever, em 18/2, sobre as grandes turbulências à vista, no cenário geopolítico global, José Luís Fiori deixou claro um ponto. Para ele, o ultimato da Rússia à OTAN, em fevereiro, e a declaração conjunta de Putin e Xi Jinping, semanas antes, propondo revisão da ordem eurocêntrica, sinalizavam o declínio de poderes estabelecidos por séculos.
A China superou há anos os Estados Unidos em produção, planejamento e coordenação econômica. Seu PIB superou o do rival em termos de poder real de compra há anos e está prestes a ultrapassá-lo também em termos nominais. Sua superioridade aflora em terrenos tão distintos com o resiliência às crises financeiras, o enfrentamento da pandemia ou a inovação científica e tecnológica em setores como as telecomunicações e inteligência artificial. Já a Rússia tornou-se uma ameaça à supremacia militar dos EUA. Sua intervenção na Síria, em 2015, mudou o mapa político do Oriente Médio e impediu que prosseguisse a liquidação de Estados nacionais — que já devorara o Iraque, o Afeganistão e a Líbia. Seu desenvolvimento de armas hipersônicas poderia, em tese, desafiar a hegemonia bélica dos EUA — que são, sozinhos, responsáveis por 36% dos gastos militares do planeta.
Mas o que os Estados Unidos fariam, diante destas duas forças opositoras, que parecem se articular? Para blindar seu domínio, todo poder hegemônico tenta tirar proveito de suas próprias vantagens e explorar as debilidades do adversário. Ao longo do episódio que levou à guerra da Ucrânia, os EUA apostaram em seu poder comunicacional e financeiro – imensamente superiores aos da Rússia e China. E souberam criar, entre estas vantagens, sinergia instantânea e avassaladora.
A demonização de Putin e da Rússia foi realizada em ritmo de blitzkrieg. Vale a pena examinar o contraste entre os números e a propaganda. Até 28 de fevereiro, segundo o próprio presidente ucraniano, Zelensky, seu país havia sido atingido por “56 bombas e 113 mísseis”. Em comparação, dados oficiais divulgados pela Casa Branca em janeiro revelaram que o número méido de bombas lançadas por Washington e seus aliados desde 2001, sobre países como Iraque, Síria, Afeganistão, Palestina, Líbia, Yêmen e outros, é de 16 mil ao ano – num total de 337.055. Mas Moscou foi convenientemente apresentada como ameaça à segurança mundial, enquanto Washington era pintada como campeã da paz e vingadora das nações oprimidas. A mídia ocidental atuou em uníssono. Um bombardeio de textos e imagens atingiu os supostos demônios. Nenhuma voz dissonante emergiu. A mídia russa (veja os exemplos emblemáticos de Russia Today e Sputnik) é inteiramente incapaz de fazer frente a avalanche.
Preparado o terreno, vieram as duas bombas atômica financeiras. A partir de 26/2, um conjunto coordenado de ações dos governos e bancos centrais dos Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Japão, Suíça e Canadá passou a estrangular a economia de Moscou. Todos os bancos russos – com exceção de dois, que recebem diretamente o pagamento pelo petróleo e gás natural exportados pelo país – foram excluídos do sistema Swift, (Sociedade para Comunicação Financeira Interbancária Mundial, na sigla em inglês), o único capaz, hoje de garantir pagamentos internacionais envolvendo troca de moedas. Num único ato, a Rússia foi cancelada da rede que viabiliza cerca de 90% do comércio internacional – e virtualmente 100%, no caso dos países ocidentais.
Dois dias depois, a segunda bomba: a mesma coalizão de países decidiu unilateralmente tornar indisponíveis cerca de 400 bilhões de dólares de reservas russas, depositados em seus bancos centrais Na prática, equivale a um sequestro. Formalmente, as somas permanecem sob titularidade da Rússia – mas os bancos centrais proíbem Moscou de movimentar seu dinheiro. Desde o início, como mostra matéria da revista Economist, sabia-se os efeitos da medida. O valor sequestrado é, em si mesmo, gigantesco. Equivale a pouco menos do PIB da Argentina ou da Suécia, significando que foi subtraída, do conjunto da população russa, uma riqueza de tal magnitude. Além disso, um esforço de dez anos da Rússia, para livrar sua economia da dependência em relação às potências ocidentais foi anulado de um golpe. E, do ponto de vista mais prático e imediato, dezenas de milhares de cidadãos russos iniciaram uma corrida aos bancos, por temerem que, privado de suas reservas, o banco central do país não possa honrar seus depósitos. Em 28/2, o rublo despencou 30%. A bolsa de Moscou paralisou seu pregão, após as cotações despencarem, e sequer abriu no dia seguinte.
As corridas aos bancos estão entre os fenômenos sociais mais capazes de produzir revolta e desestabilização política. E desestabilizar a Rússia – e se possível a própria China – tornou-se objetivo explícito de boa parte do establishment dos EUA. Num novo artigo publicado no New York Times em 1/3, o mesmo Thomas Friedman que antes reconhecera a procedência das queixas de Moscou em relação à OTAN, mudava radicalmente de tom e descrevia o cenário que gostaria de ver, ao final da guerra. Neste, “ou a população russa colaborará para derrubar Putin, ou será isolada do mundo terá sua vida transformada em inferno”.
Em 3/3, quando se fechou este texto, o sinais de isolamento da Rússia não paravam de se multiplicar. No Ocidente, raríssimos líderes políticos de esquerda com alguma relevância defenderam a posição do país, ou atreveram-se a falar contra a OTAN. Na ONU, uma raríssima Assembleia Geral Extaordinária – apenas a 11ª, em 77 anos de história da organização – condenou a operação militar de Putin por 141 votos a cinco (houve 35 abstenções, a maior parte de países africanos com boas relações com a China. A maré assumiu feições claras de intolerância cultural e caça às bruxas. O Comitê Olímpico Internacional baniu da Paraolimpíada de Pequim os atletas com deficiências físicas da Rússia e Bielorrúsia. A Universidade de Milão cancelou um curso sobre a obras de Dostoiévski. O SESC-SP suspendeu um ciclo de cinema russo. Uma associação internacional de criadores de gatos decidiu que “nenhum animal criado na Rússia poderá ser importado ou registrado em nenhum livro de pedigree fora desse país”…
Haveria meio de sair da emboscada?
III. E se os EUA tiverem queimado seus próprios navios?
O congelamento da riqueza financeira do país é uma medida tão extrema e perigosa que em 3/3 a mesma Economist, que apoiara sua aplicação contra a Rússia, ponderou que será preciso, mais adiante, limitá-la. “O Ocidente lançou uma arma econômica que era inimaginável. Ao elevar o potencial destrutivo das sanções, arrisca-se a incentivar mais nações a se desligarem do sistema financeiro liderado pelos Estados Unidos”, adverte o texto.
O alerta relaciona-se possivelmente a duas questões – uma ética, ligada à noção de hipocrisia e outra pragmática, relacionada ao cálculo de oportunidades e riscos. Se o dinheiro russo pode ser sequestrado, em função de uma guerra que segundo as autoridades ucranianas causou a morte de 2 mil pessoas, que dizer da Arábia Saudita, aliada estratégica dos Estados Unidos? Sua invasão ao Yêmen, mantida há sete anos com armas e apoio político fornecidos por Washington, já matou 377 mil, segundo a ONU – dos quais 70% eram crianças com menos de 5 anos. E que fazer dos ativos de Israel, que só num dos conflitos contra os Paletinos da Faixa de Gaza (o de 2008-09), matou 1417 civis, num território cuja população é vinte vezes menor que a ucraniana? Telaviv e Riad sofrerão sanções como as que atingiram Moscou? Ou os países próximos dos EUA têm mais direito de matar que os demais?
Mas é possível um questionamento ainda mais profundo. Se o dinheiro pode ser tão facilmente manipulado – se US$ 400 bilhões podem evaporar da noite para o dia, a partir de um ou dois cliques nos registros dos bancos centrais – então, o que é o dinheiro? Um registro objetivo de riqueza? Ou apenas uma relação política, passível, portanto, de ser modificada por novas decisões políticas?
* * *
A questão pragmática assenta sobre o fato de os EUA serem, hoje, o centro e os principais beneficiários do sistema financeiro internacional, cuja arquitetura foi construída segundo as relações de poder. No pós-II Guerra, a União Soviética jamais foi capaz de construir relações financeiras sofisticadas como as do Ocidente. Quando o campo soviético desmoronou, o domínio erurocêntrico tornou-se ainda mais absoluto. É por isso, que dos US$ 620 bilhões das reservas da Rússia em moedas fortes, 64% estão “depositadas” (na forma de meros registros eletrônicos, é claro), em sistemas controlados majoritariamente pelos bancos centrais norte-americano e, num segundo lugar muito distante, europeu (os US$ 220 bi restantes estão denominados em yuans, a moeda chinesa, ou entesourados em barras de ouro, em algum ponto do território russo).
As medidas adotadas pelo Ocidente não levarão a Rússia, e em especial a China, sua aliada estratégica, a criar sistemas alternativos ao Swift e à concentração de depósitos em instituições ocidentais? Pequim acumula reservas internacionais ainda mais gigantescas que as de Moscou – cerca de US$ 3,2 trilhões. Hoje também concentradas no sistema financeiro ocidental Embora cauteloso, um editorial no Global Times – o jornal oficial (porém, cada vez mais refinado) da China, classificou como “sem precedentes” a ação dos bancos centrais norte-americano e europeu. Também sugeriu uma alternativa. “Se a Russia for excluída das transações invistaternacionais de energia com a maior parte das nações europeias, elas precisarão ser desdolarizadas. Será o início da desintegração da hegemonia do dólar”, diz o texto.
A China tem o embrião de um sistema alternativo ao Swift. Chama-se CIPS – Sistema Internacional de Pagamentos Interbancários entre Fronteiras. Lançado em 2015, movimenta aproximadamente US$ 12,7 trilhões por ano – cerca de 1%, apenas, de seu concorrente hegemônico. Mas já articula 1280 instituições financeiras (contra 11 mil, do Swift), de 103 países (contra 200). O quadro pode mudar rapidamente. A China, hoje líder nas transações comerciais (suas exportações são quase o dobro das norte-americanas), sentia-se até agora confortável em servir-se do Swift – e também dos bancos centrais do Ocidente, para alocar suas reservas. Que fará após os últimos acontecimentos?
Ao contrário de Moscou, Pequim não parece afoita em afrontar a hegemonia geopolítica dos EUA. Ao tratar da crise na Ucrãnia, a maior pare dos textos e imagens no Global Times argumenta sobre a responsabilidade essencial da OTAN. Mas o jornal não deixou de reportar, em 28/2, o diálogo telefônico emtre os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e da China. Ao final, Wang Yi, o ministro chinês, afirmou que foi um encontro produtivo; que Pequim apoia todas as iniciativas para debelar a crise; que é contrária à expansão das alianças militares; mas que se opõe a que qualquer país enfrente seus problemas de segurança expondo outros a problemas do mesmo tipo…
* * *
Uma semana depois de iniciada a guerra, seu curso parece indefinido. Tanto Putin quanto o Ocidente, como se viu, fizeram apostas muito arriscadas. Ao menos Três grandes questões se colocam:
- O que farão os chineses? Eles já estão criando, há anos, um sistema de pagamentos alternativo ao baseado em dólares. Certamente desejavam uma transiação muito mais suave e pacífica do que a que talvez tenham de iniciar agora. Mas abandonarão Putin? Possivelmente o salvarão — cobrando o preço econômico e político correspondente. Mas a China não tem a menor condição de se desacoplar imediatamente do distema financeiro que gira em torno do dólar, devido ao imbricamento de seua economia com as ocidentais. Será interessante ver como agirá neste xadrez.
- O que fará a Rússia, se for capaz de sair da emboscada? Moscou não aceitará o sequestro de seus Us$ 400 bilhões — e digdamos que tem meios para tentar um resgate… Como isso se dará? Esta questão será complicador permanente, num cernário internacional já tumultuado e instável.
- O que pensará a esquerda? Pelo menos para alguns passos o sequestro deveria servir. Compreender que o dinheiro é, acima de tudo uma relação política. Dessacralizar por completo a ideia de que a riqueza financeira é intocável. Demonstrar, mais uma vez, que os governos têm o dever de criar moeda em favor das maiorias, do comum, da redistribuição de riquezas. Mas haverá olhos para enxergar?